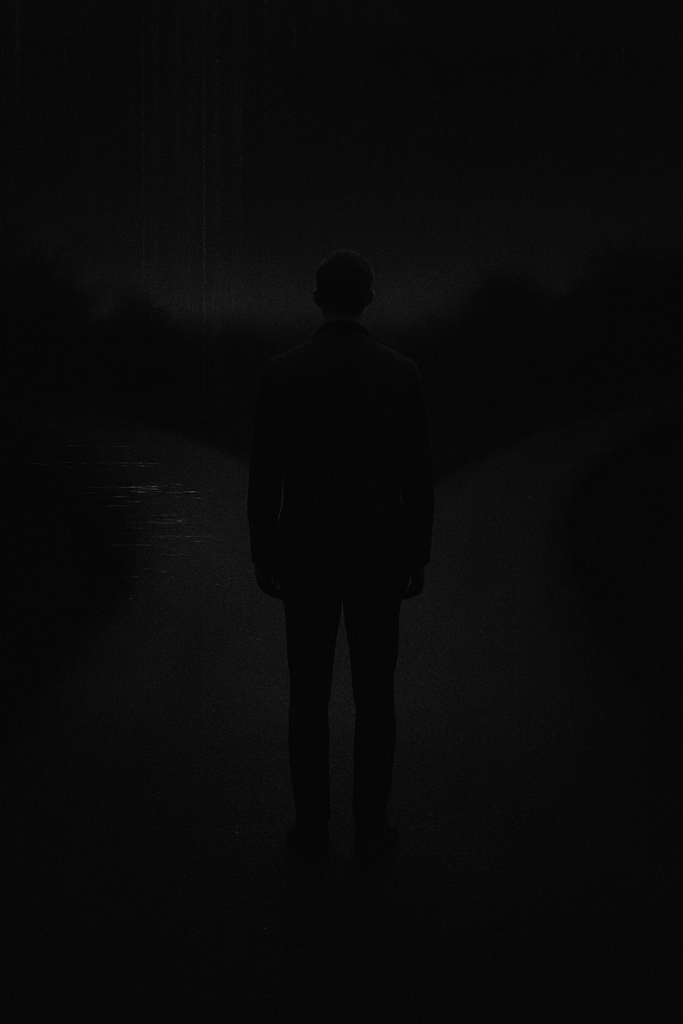Na primeira noite, sonhei que derramava café na camisa durante uma reunião. A xícara escorregava da minha mão, o líquido quente se espalhava no peito da camisa clara, e todos paravam para olhar. Tentei continuar falando, mas ninguém riu. Acordei com a sensação de calor no corpo e um gosto leve de vergonha.
No dia seguinte, no escritório, me ofereceram café antes da reunião. Quase aceitei por hábito, mas recusei. Na sala, a disposição das cadeiras lembrava o sonho. As vozes, o clima. Durante uma troca de lugares, Marcos, o analista novo, esbarrou com a caneca e derrubou café em si mesmo. Xingou, tentou limpar com um guardanapo. Alguns riram.
Eu não ri. Pensei: era para ser comigo. Ou talvez ia ser com alguém, de qualquer forma.
Talvez o erro precise acontecer. Só não comigo, dessa vez.
Na segunda noite, sonhei que era confrontado durante uma reunião. Respondia mal, com arrogância. A chefe me corrigia na frente de todos. A humilhação ficava pairando no ambiente do sonho como umidade nas paredes.
Acordei e anotei no caderno da gaveta.
Na reunião real, a pergunta veio. Não igual, mas próxima. Respirei fundo, respondi com calma. A chefe assentiu.
— Boa colocação.
No corredor, ouvi Marcos sendo repreendido por outro gestor. Um detalhe pequeno, mas com dureza. Algo deslocado.
Em casa, minha esposa comentou:
— Você tá menos nervoso ultimamente. Mais… centrado.
— Só dormi melhor — menti.
Desviei do ruído. E alguém tropeçou nele no meu lugar.
Na terceira noite, sonhei que levava minha esposa a um restaurante ruim. Barulho demais, luz fria, serviço demorado. Ela dizia: “Você nem lembra mais do que eu gosto.” Acordei antes do prato principal.
Troquei a reserva por um lugar pequeno, quase esquecido, onde fomos no início do namoro. Luz baixa, mesa pequena, cardápio familiar.
— Aqui? — ela perguntou, surpresa.
— Me deu vontade.
Durante o jantar, ela sorriu mais de uma vez. Tocou minha mão no meio da conversa.
— Você tá me ouvindo diferente.
— Tô tentando.
Mais tarde, ela recebeu uma ligação: o irmão havia sofrido um acidente leve. Nada grave. Distração.
Corrigi o gesto, mas o mundo moveu o susto para outro ponto.
Na quarta noite, sonhei que ignorava uma mensagem da minha irmã. Depois, ela aparecia no sonho com olhos tristes. “Você sempre esquece de mim”, dizia. Acordei com uma culpa deslocada.
Liguei de manhã. Ela atendeu surpresa.
— Que milagre.
— Senti vontade de falar contigo.
— Estranho. Ia te ligar hoje.
Conversamos por quase uma hora. Ela falou do trabalho, dos silêncios. Eu ouvi com atenção.
— Engraçado — ela disse. — Sonhei que você me ignorava. Você passava por mim como se eu fosse um móvel.
Ela me sonhou indo embora. E eu fui. Só que no sonho dela.
Na quinta noite, sonhei que cruzava com um funcionário no corredor. Ele me fazia uma pergunta simples e eu respondia com impaciência. No sonho, ele largava os papéis e ia embora, sem dizer nada.
No dia seguinte, abordei o rapaz logo cedo:
— Tudo bem com você?
Ele hesitou. Depois desabafou. Cansaço, invisibilidade, problemas em casa. Escutei com atenção. Ele agradeceu. Disse que precisava daquele espaço.
Horas depois, outro funcionário da equipe foi realocado para um projeto difícil.
Minha esposa me olhou:
— Você tá se importando mais com as pessoas.
— Acho que tô reparando mais.
Salvei um vínculo. Perdi a paz de outro que nem era meu.
Na sexta noite, sonhei que recusava um convite de um amigo antigo. No sonho, ele desligava o telefone, e eu o via depois caminhando pela calçada, cada vez mais longe.
Quando a mensagem real chegou — “Café hoje?” — hesitei. Mas disse sim.
Durante o encontro, ele comentou:
— Você tá estranho. Calmo demais. Parece que já sabe o que eu vou dizer.
— Às vezes eu sei.
Falamos do passado, de filmes, da vida emperrada. Ele comentou que discutira com a namorada.
— Ela diz que eu me fecho.
— E você se fecha?
— Às vezes.
Na saída, ele recebeu uma notificação. Olhou com o rosto sério.
— Tá tudo bem? — perguntei.
— A gente discutiu de novo. Eu devia estar com ela agora.
Cada conexão que restauro parece soltar um nó em outro lugar.
Na sétima noite, sonhei que escorregava numa calçada molhada. A queda era feia. As pessoas olhavam. Eu tentava rir, mas o constrangimento era maior. Minha esposa vinha me ajudar. Eu não conseguia encará-la.
No domingo, caminhamos juntos. O céu nublado, o chão ainda úmido. Vi a poça antes de pisar. Ela seguia distraída.
Parei. E decidi.
Pisei com firmeza onde sabia que escorregaria. Caí. Leve. Sem pressa. Me deixei sentar no chão como quem aceita.
Ela se virou:
— Você tá bem?
— Tô — respondi, sorrindo.
As pessoas olharam, mas eu ri. E o riso dissolveu a cena.
Ela se abaixou ao meu lado.
— Você é doido.
— Talvez um pouco.
Me ajudou a levantar. Ninguém percebeu que foi proposital. Só eu.
Talvez cair de propósito seja uma forma de continuar em pé.
Na última noite, sonhei com a estrada. Estava dirigindo. A curva vinha cedo. O carro escorregava. Havia uma mão no meu braço. Uma voz dizendo meu nome — não com medo, mas com precisão.
Acordei em silêncio.
No carro, a caminho do trabalho, minha esposa falava algo sobre o jantar da semana, um convite que recebeu. Eu assentia sem ouvir. Meus olhos estavam na estrada.
A curva chegou. Pisei no freio mais cedo.
A mão no volante. A dúvida no peito.
E se o caminho não pede controle, mas presença?
E se aceitar for a forma mais radical de escolha?